Amor só de mãe: Drama e estigma de mães de adolescentes privados de liberdade (Parte II)
RESUMO: Amor só de Mãe: Drama e estigma de mães de
adolescentes privados de liberdade é um estudo etnográfico através de uma
descrição sócio – antropológica sobre a realidade dessas mulheres/mães. O
estudo é fruto de uma pesquisa monográfica que foi realizada em 2012 e 2013 com
mães de adolescentes internos na Unidade Socioeducativa de Internação Masculina
Sentenciados I/UIMS, localizada em Porto Velho – RO. Com objetivo geral de
evidenciar as consequências sociais provocadas pelo vínculo entre a mãe e o
filho adolescente privado de liberdade, e os seguintes objetivos específicos:
1) Investigar a recepção e o atendimento das genitoras dos adolescentes em
internos na UIMS-I, identificar os marcadores simbólicos dessa situação; 2)
Fornecer para sociedade em geral, um estudo compreensivo da realidade de
buscando dessas mulheres, a partir da perspectiva de direitos e 3) Identificar
e demonstrar as expectativas e angústias dessas mulheres e mães, e as dimensões
sociais do fato de ser mãe de um adolescente em conflito com a lei. A primeira
parte do trabalho foi publicada no ANO 17, Volume 1 – Janeiro/Junho de 2015.
Palavras Chave: Drama; Liberdade; Estigma; Porto
Velho.
Resumo: Amor só de Mãe: Drama e estigma de mães de adolescentes
privados de liberdade é um estudo etnográfico através de uma descrição sócio –
antropológica sobre a realidade dessas mulheres/mães. O estudo é fruto de uma
pesquisa monográfica que foi realizada em 2012 e 2013 com mães de adolescentes
internos na Unidade Socioeducativa de Internação Masculina Sentenciados I/UIMS,
localizada em Porto Velho – RO. Com objetivo geral de evidenciar as
consequências sociais provocadas pelo vínculo entre a mãe e o filho adolescente
privado de liberdade, e os seguintes objetivos específicos: 1) Investigar a
recepção e o atendimento das genitoras dos adolescentes em internos na UIMS-I,
identificar os marcadores simbólicos dessa situação; 2) Fornecer para sociedade
em geral, um estudo compreensivo da realidade de buscando dessas mulheres, a
partir da perspectiva de direitos e 3) Identificar e demonstrar as expectativas
e angústias dessas mulheres e mães, e as dimensões sociais do fato de ser mãe
de um adolescente em conflito com a lei. A primeira parte do trabalho foi publicada
no ANO 17, Volume 1 – Janeiro/Junho de 2015.
Palavras Chave: Drama; Liberdade; Estigma; Porto
Velho.
3.
UNIDADE, ADOLESCENTES E SUAS MÃES: CONTEXTUALIZANDO O
CENÁRIO DA PESQUISA
Diante dessa compreensão e se tratando de um método etnográfico, cujos
pilares metodológicos são compostos pela observação e descrição dos cenários do
campo, ao iniciar as atividades de campo, reservei uma boa parte do meu tempo
observando o espaço físico da Unidade de Internação Masculina Sentenciada I –
UIMS-I.
3.1.
Unidade Socioeducativa
Com base
no conhecimento do espaço das posições, que podemos recortar classes no sentido
lógico do termo, que dizer conjuntos de agentes que ocupam posições semelhantes
e que, colocados em condições semelhantes e sujeitos a condicionamentos
semelhantes, têm, com toda probabilidade, atitudes e interesses semelhantes. (1989, p. 136).
É essencial para uma melhor
compreensão desse estudo entender a função da UIMS-I e conhecer a estrutura que
ela dispõe para realizar o atendimento ao adolescente privado de liberdade e de
sua família. As unidades socioeducativas são estabelecimentos destinados a atender
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação, internação
provisória ou semiliberdade.
Em Porto Velho, existem quatro unidades socioeducativas e todas são
destinadas a internação (que pode chegar a três anos) ou internação provisória
(que não pode ultrapassar quarenta e cinco dias), e nenhuma unidade atende a
medida de semiliberdade, assim, percebemos o quanto o Governo do Estado
prioriza na gestão das medidas o caráter fechado do atendimento socioeducativo
oferecido aos adolescentes.
A gestão da unidade socioeducativa deve seguir em seus aspectos
pedagógicos, administrativos e arquitetônicos um conjunto de normas e
recomendações especificadas nos Parâmetros (2006) e na Lei (2012) do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, visando garantir ao
adolescente tratamento digno, atendimento humanizado e possibilidades de
educação e integração social.
3.1.1.
UIMS-I: Função e Estrutura

A
Unidade de Internação Masculina Sentenciada I é localizada zona leste de Porto
Velho, na Avenida Rio de Janeiro, Bairro Lagoa, destinada a atender
adolescentes entre 13 a 18 anos, em alguns casos a idade pode chegar até 21 anos,
daqueles adolescentes que estão em cumprimento de medida de privação de
liberdade
A
Medida socioeducativa de internação é prevista nos artigos 112 e 121 a 125 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aplicada pelo Juiz da Infância e da
Juventude aos adolescentes autores de atos infracionais, observado o devido
processo legal, assegurando-se ao adolescente as garantias individuais e
processuais previstas no ECA.
O ECA
atribui ao governo estadual a responsabilidade pela execução das medidas de
privação de liberdade e semiliberdade, em Rondônia, a Secretaria de Justiça do
Estado é a responsável e mantedora da
Unidade, que por sua vez designou a
Coordenadoria de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei - CAA/SEJUS
criada em 28 de dezembro de 2007, através da lei complementar nº 412, para
coordenar as 16 unidades socioeducativas do estado de Rondônia.
O objetivo da CAA
consiste em “promover
no estado de Rondônia, o atendimento ao adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa com eficácia, eficiência e efetividade, de acordo com as leis,
normas e recomendações de âmbito Estadual e Nacional” (RONDÔNIA, 2012, p 06).
Sendo que missão da UIMS-I “é garantir o alto desempenho e o pleno
desenvolvimento cognitivo-social dos adolescentes sob sua responsabilidade”,
segundo consta em seu Plano Político Pedagógico - PPA (2012 p. 40).
Lembrando ainda que a
medida socioeducativa tem natureza sancionatório e conteúdo prevalentemente
pedagógico como especificado no artigo 18º do Regimento Interno da Unidade,
cabe a ela: 1) atender os adolescentes,
em internação, conforme os preceitos legais, 2) realizar a recepção do
adolescente inserido na internação e 3) Acolher os adolescentes após receber a
medida socioeducativa de internação. (p. 08).
A
unidade tem a capacidade de internação de quarenta adolescentes. E através de um levantamento nos registros de
entradas mensais de internos na UIMS-I, observa-se que a quantidade de
adolescentes de agosto de 2011 a Junho de 2013 variou entre 28 (vinte oito) a
46 (quarenta seis) internos, conforme tabela abaixo:
Outros dados coletados na
UIMS-I revelam que de 2009 a 2013 passaram pela Unidade o total de 240
adolescentes. No gráfico abaixo podemos perceber o quanto o número de entradas
de adolescentes cresceu de 2010 a 2012. Desses dados podemos concluir que a
unidade se depara com o desafio ainda maior, no sentindo de ter que atender uma
demanda crescente.

Não
consegui obter a data certa de inauguração da unidade, não há registros e
informações sobre a referida data na direção da UIMS-I e CAA. Como alguns anos
atrás houve um incêndio no prédio que abrigava a SEJUS, localizada na antiga
Esplanada das Secretarias, onde funciona hoje o Centro Político Administrativo
– CPA, na Avenida Farquar, muitos registros importantes foram pedidos no
incêndio, inclusive informações referentes ao histórico da Unidade.
No
entanto, conversando com os servidores efetivos mais antigos, oriundos do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia
(IPERON), os mesmos relataram que no ano 2000, quando foram colocados à
disposição da Fundação de Assistência Social do Estado – FASER[1] e em
seguida lotados na UIMS-I.
Com
base na informação da lotação dos servidores mais antigos da unidade, podemos
chegamos à conclusão que, no mínimo, a UIMS-I funciona há treze anos, atendendo
adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação.
Os servidores
informaram, ainda, que durante esse tempo a unidade passou por diversas
reformas e construções, sua aparência estrutural foi alterada constantemente
nos últimos anos. Durante a realização da pesquisa de campo, presenciei duas
reformas na Unidade, uma em 2012 e outra ainda este ano.
Hoje, a unidade possui
uma área aproximada de seis mil metros quadrados, e sua estrutura é composta por
uma quadra poliesportiva coberta e 09 (nove) Blocos, divididos conforme tabela
abaixo:
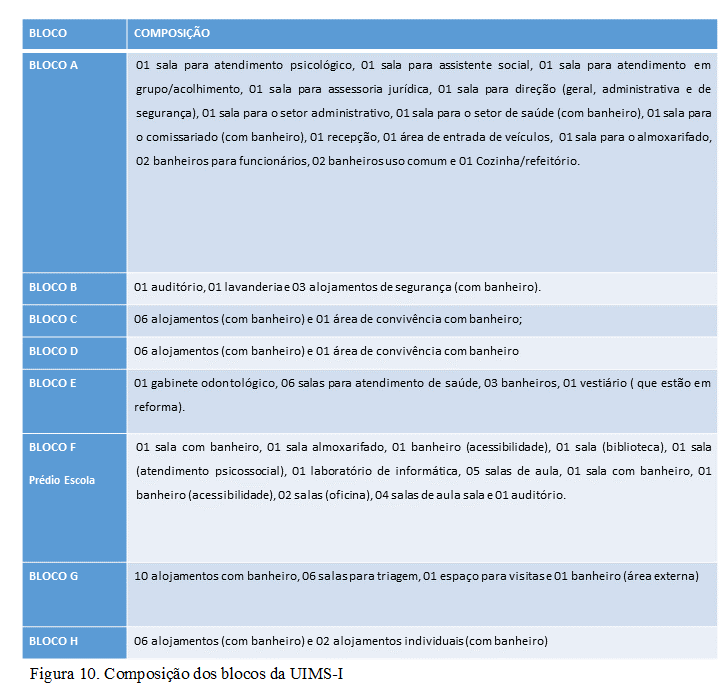
FONTE: RONDÔNIA, Plano Político Pedagógico da
UIMS-I.
A unidade
conta hoje em seu quadro de funcionários com 123 servidores, destes, 77 são
socioeducadores estatutários e emergências, 07 comissários (chefe de plantão),
08 socioeducadores em regime comissionado, 31 servidores da equipe técnica, que
inclui auxiliar administrativo, assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras,
técnicas de enfermagem, professoras, coordenador pedagógico, diretor
administrativo, diretor de segurança e diretor Geral.
Os
socioeducadores constituem o maior grupo de servidores, além de serem os que
ficam mais próximos dos adolescentes durante toda a rotina da unidade. Antes de
iniciarem sua atuação na unidade, precisam passar por um curso de formação
básica de socioeducador com carga horária de 300 horas, sendo sua aprovação no
curso uma das fases do concurso público para socioeducador. Uma vez que o
socioeducador começa a desenvolver suas atividades na unidade, suas
atribuições, conforme o artigo 17º do regimento interno da Unidade consistem
em:
2)
Expedientes são os socioeducadores que trabalham oito horas
diárias, de segunda a sexta, dando apoio nas atividades e reforçando a
segurança da unidade.
3)
Escoltas são os socioeducadores que trabalham no mesmo regime
de hora dos expedientes, porém são responsáveis exclusivamente para acompanhar,
ou seja, “escoltar” os adolescentes nas audiências no Juizado da Infância e
Juventude e nos atendimentos externos, como consultas médicas, odontológicas e
tratamento no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
A unidade oferece aos adolescentes internos, os
serviços de atendimento com psicóloga e assistente social, atendimento com
técnica de enfermagem e enfermeira e atividades recreativas e esportivas. A
escolarização oferecida aos adolescentes durante a internação é realizada
através do ensino modular por professores da Secretaria Estadual de Educação,
sob coordenação do Centro Estadual dos Estudos de Jovens e Adultos Padre
Morett.
3.1.2.
Atendimento Socioeducativo.
O Manual de orientação Socioeducar para Programas de
Atendimento ao adolescente privado de liberdade (MPRO 2008) e o Plano Político
Pedagógico da Unidade (RONDÔNIA 2012) definem que o processo Socioeducativo é
constituído de três fases: inicial, intermediária e conclusiva, compreendendo
que:
As práticas socioeducativas, serão organizadas a partir das fases de
atendimento ao adolescente em conflito com a lei, desde o momento de sua
entrada na Unidade Socioeducativa até o
trabalho desenvolvido depois do desligamento, quando se dará sua inserção
sócio-familiar. Essas fases pretendem demarcar os diversos momentos pelos quais
passa o adolescente enquanto cumpre sua medida socioeducativa na Unidade. Elas
estruturarão o atendimento e organizarão as ações dos personagens envolvidos
(RONDÔNIA, PPA-UIMS-I, 2012, p. 32).
É necessário ainda ao termino do levantamento, a
realização de “entrevista
devolutiva, ou seja, reunir com educando e sua família para discutir o
diagnóstico” (MPRO, p. 17). Uma vez que é “a partir do Diagnóstico
Polidimensional que será elaborado o Plano Individual de Atendimento – PIA e a
partir da execução do PIA do adolescente será possível avaliar os avanços
ocorridos no período de privação de liberdade”. (MPRO. p. 19)
A terceira fase
(conclusiva) é a elaboração do PIA, que se constitui obrigatória, e
deve ser realizada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da data do
ingresso do adolescente no programa de atendimento socioeducativo de privação
de liberdade, é necessário a participação efetiva do adolescente e sua família,
levando em conta os seguintes pressupostos:
Portanto, a unidade precisa realizar o atendimento do
adolescente integrado com a família, partindo do respeito e compromisso em
atender com eficácia o adolescente, para tanto é fundamental inserir sua
família nessa missão socioeducativa.
3.1.3.
UIMS-I: O lugar das dimensões entre o visível e o invisível.
Ao fazer o estudo da vida
social de um determinado grupo social ou dos indivíduos de uma determinada
sociedade, é essencial olhar para o espaço e lugar, buscando compreender de que
forma esses elementos estão conectados com o seu objeto de estudo. Anthony
Giddens recomenda que enquanto pesquisadores da vida social, nós cientistas
sociais, devemos considerar “as práticas sociais, ao penetrarem no espaço e no
tempo, estão na raiz da constituição do sujeito e do objeto social” (2009, p.
24).
Tendo em vista esse
entendimento, seria impossível não situar a UIMS-I, uma vez que é nela que
estão internados os filhos das mães que constituem o grupo estudado nesta
pesquisa, e sua representação enquanto “espaço” onde realizei grande parte da
minha observação participante. Cujo “tempo” dessa vivência ofertou-me oportunidades
de descobrir aspectos importantes que contribuíram para pesquisa.
UIMS-I no contexto da
pesquisa é compreendida como o espaço de conexão entre diversos atores que
compõem o cenário da pesquisa (mães, familiares, adolescentes e servidores),
que através do seu cotidiano e rotina imprimem significados para a vida social.
Uma vez, que segundo Giddens, a “rotina (tudo que é feito habitualmente)
constitui um elemento básico da atividade social cotidiana”. Portanto, “O termo
cotidiano condensa exatamente o caráter rotinizado que a vida social adquire à
medida que se estende no tempo e no espaço” (GIDDENS, 2009, p. 25) e que
expressa a partir da nossa própria experiência suas noções.
O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire
definição e significado. Sendo o lugar um mundo de significado organizado,
caracterizado como um arquivo de lembranças efetivas e realizadas que inspiram
o presente. (TUAN, 1930. p. 151). Podemos perceber a
UIMS-I como um lugar visto na sociedade através das dimensões do visível e do
invisível, que mesmo sendo um espaço institucional e concreto e vista e
reconhecida por uma pequena parte dos indivíduos (que geralmente estão ligados
a ela de alguma forma). Enquanto para maior parte dos indivíduos ela é vista,
porém não reconhecida ou ignorada.
A dimensão visível é manifestada pelos indivíduos que
interagem e acessam a Unidade, e que atribuem
diferentes significados para o mesmo lugar. Enquanto o servidor vê a Unidade
como o lugar que ele deve exercer sua função profissional, o adolescente a
enxerga como o lugar para cumprir medida socioeducativa e os familiares
enxergam como o lugar que se encontra internado um membro de sua família.
Unidade transforma-se em símbolos que ganharão
contornos conforme o olhar de cada grupo social, podendo representar o trabalho
para o servidor, castigo para o adolescente e o isolamento para os familiares
dos adolescentes. A dimensão invisível da unidade é manifestada através do
desconhecimento da sua existência por parte dos indivíduos que estão e passam
diariamente ao seu entorno, como pude notar ao conversar com alguns vizinhos e
morados do bairro, que relataram não saber da existência de uma unidade de
internação no bairro.
Essa dimensão também é notada nas instituições sociais vizinhas, como a
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Orlando Freire, Sede
Social do Sindicato dos Trabalhadores Federais do Estado de Rondônia –
SINDSEF-RO e da Escola e do Clube Social do Sistema Social da Indústria –
SESI-RO.
Que mesmo estando posicionadas no entorno da unidade, e sendo também
papel dessas instituições atenderem a sociedade em geral, as referidas
instituições nunca propuseram ou aceitaram fazer parcerias para realização de
projetos sociais na Unidade, convalidando assim, uma relação segregada,
concretizada pela presença dos muros[2]. Demonstrando seu
distanciamento social em relação à outra instituição social espacialmente tão
próxima delas, como podemos perceber na figura a seguir.
Figura
11. Imagem de satélite da UIMS-I e do entorno.
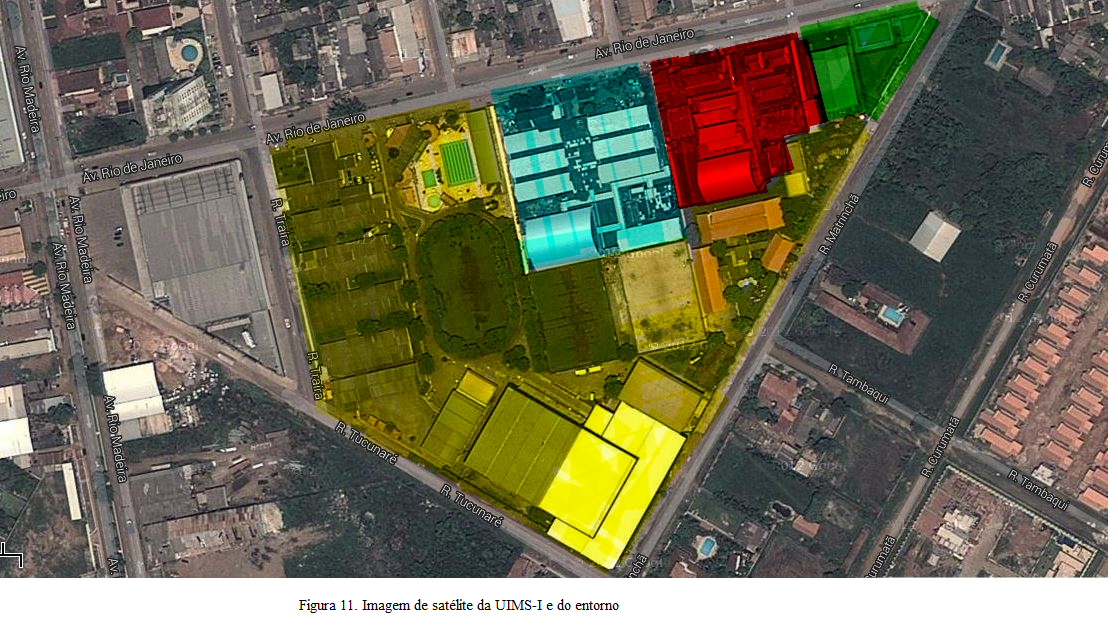
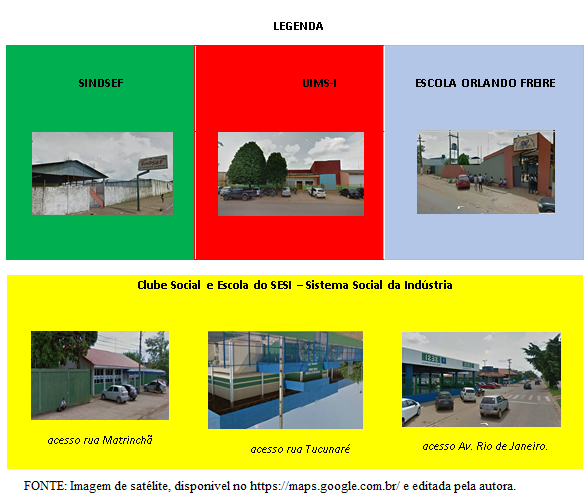
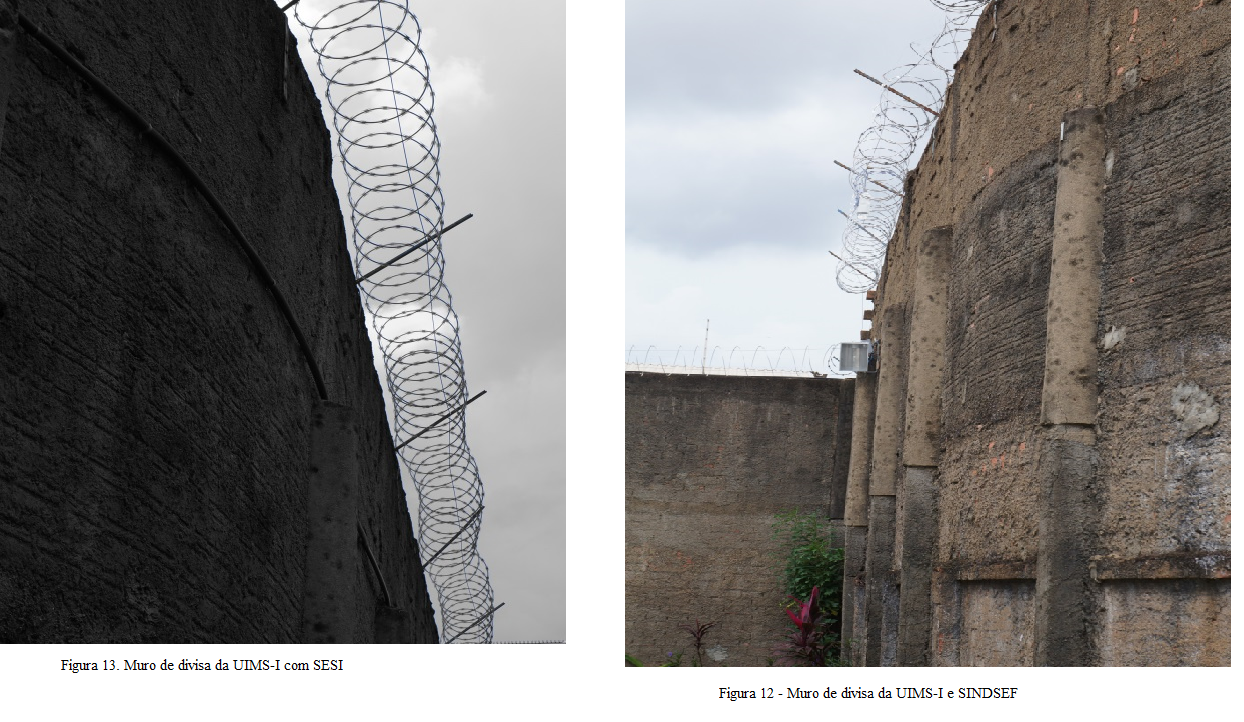
Os muros das fotografias
acima não representam apenas a separação espacial, mas, sobretudo social, das
instituições mencionadas, reforçam o caráter totalizador da unidade e também
simbolizam, ainda, o muro social do preconceito, levantado pela sociedade
diante dos jovens envolvidos como a criminalidade, como explica Volpi:
Geralmente
este adolescente é rotulado de “infrator” e considerado um “perigo para a
sociedade”, devendo pagar pelo mal que cometera. Isto nos mostra que os deveres
e obrigações destes adolescentes vêm logo à torna no pensamento das pessoas e
seus direitos quase que esquecidos. Por trás de toda infração existe uma pessoa que sofreu e sofre influência do
meio que vive. (1997, p. 01).
A distância entre a realidade de integração desses jovens na
sociedade e as exigências legais de integração social indicados na legislação
de proteção ao adolescente (ECA e SINASE) são visíveis, reforçados a posição de
estado de exceção no qual os mesmos se encontram. Esse fato é identificado
através do que disse Agabem: “um espaço vazio, onde uma ação humana sem relação
como direito está diante de uma norma sem relação com a vida” (2008, p. 131).
3.1.4. A disciplina e
o cenário panóptico da unidade
Os cenários da unidade
evidenciam a grande preocupação do Estado com vigilância, priorizando, em nome
da segurança à reclusão dos adolescentes, agregando ao ambiente, elementos
como: os muros altos, as cercas de concertinas, as grades de ferro, lugares
escuros, bigornas, a distribuição dos socioeducadores em postos fixos de
vigilância, em vez de priorizar os aspectos pedagógicos no atendimento, que em
tese deveria ser socioeducativo.
Esses elementos em conjunto
com as disciplinas impostas pela instituição, como por exemplo: andar de cabeça
baixa e mãos para trás, revistas antes e depois de sair do alojamento, revistas
dos alojamentos, escoltas e contagem de internos objetivam, segundo Foucault
(2009), a “docilidade dos corpos”. E evocam as características do “Panóptico de
Bentham, que é a figura arquitetural dessa composição” como define Foucault ao
explicar o Panóptico.
O
Panóptico é um zoológico real; o animal é substituído pelo homem, a
distribuição individual pelo grupamento específico e o rei pela maquinaria de
um poder furtivo. Fora essa diferença (...). O Panóptico funciona como uma
espécie de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de observação, ganha
em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens.
(FOUCAULT 2009 p. 193 -194)
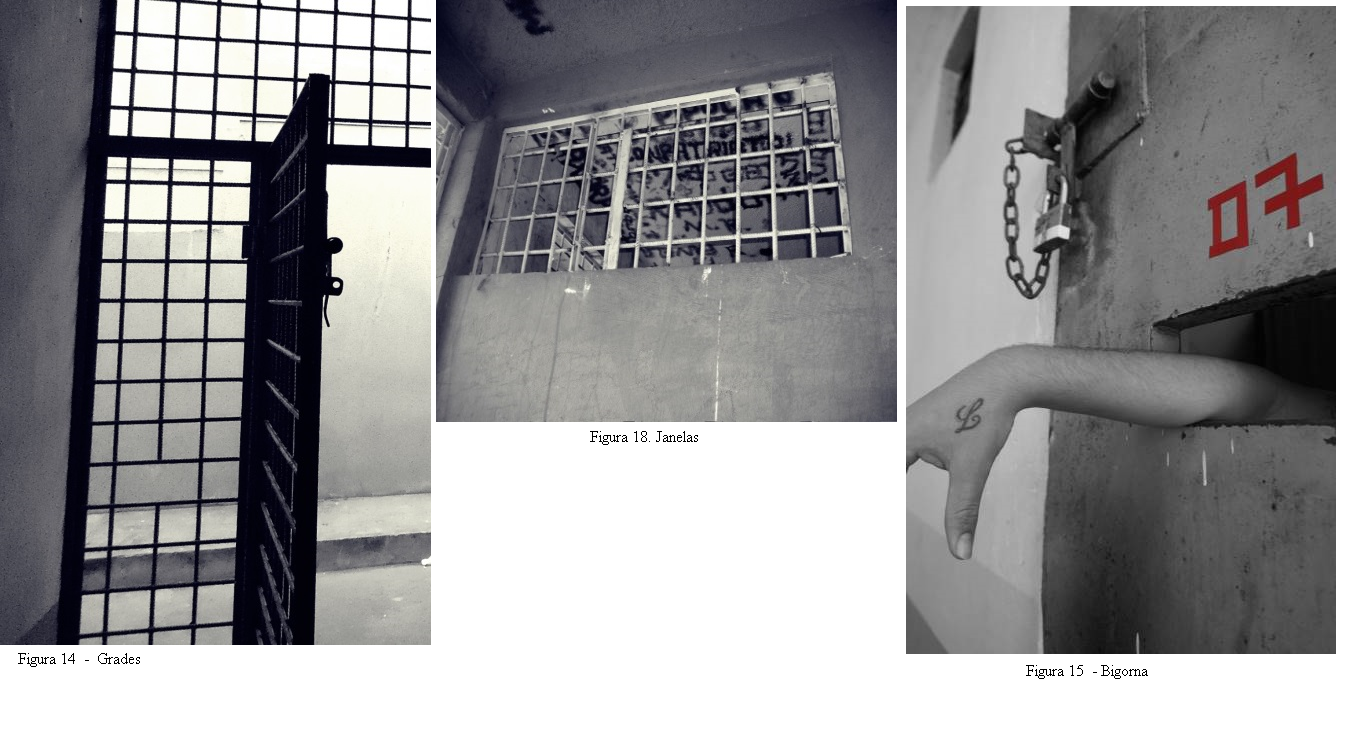
Os socioeducadores utilizando assessórios militares
como coturnos e cartucheiras e o mesmo uniforme preto dos agentes
penitenciários, ajudam assim a reproduzir o cenário de prisão. Nesse ínterim,
as medidas socioeducativas perdem seu foco principal de caráter pedagógico. Não existe relação entre
socioeducador e adolescentes. Os socioeducadores só ficam próximos dos
adolescentes quando fazem escolta, ou seja, quando acompanham os mesmos em
alguma atividade ou local e nesse período só falam com os adolescentes o
extremamente necessário.
O comportamento do socioeducador é patrocinado pelo
Estado, que não promove cursos e capacitações continuadas e segundo relato de
um socioeducador a única formação que receberam foi um curso de formação
previsto no concurso que eles realizaram juntos com agentes penitenciários,
ministrado pelos mesmos professores.
Neste cenário, que mais parecer de reclusão do que de
reintegração como prever as medidas socioeducativas. A estrutura física, as
regras e as formas de organização da unidade, inclusive a formação oferecida
aos socioeducadores que atuam nela, são moldadas em torno do modelo
penitenciário, percebe-se que a função prática da unidade socioeducativa é
similar à função da prisão, que consiste na:
Uma das primeiras
observações que me chamou atenção ao olhar para a unidade, foi perceber como o
próprio nome Unidade de Internação Masculina Sentenciada I constitui em si um
rotulo pejorativo. A palavra “sentenciados” é um adjetivo e substantivo
masculino utilizado para identificar o indivíduo que recebeu uma sentença
condenatória criminal, que indica que os indivíduos que estão naquele espaço já
cometeram crimes, e mesmo que o ECA considere esses jovens imputáveis
penalmente, a palavra “sentenciados” funciona como uma representação da
penalidade atribuída a esses jovens.
Indo ao encontro do que
Foucault (2009) define como a elevação da penalização, sendo sua própria representação
“maximizada e não sua realidade corpórea” (p. 115), podemos concluir como
propõe Foucault que “a arte de punir deve, portanto, repousar sobre toda uma
tecnologia da representação” (p. 124), dessa forma a:
Eficácia da pena está na
desvantagem que se espera dela. O que ocasiona a “pena” na essência da punição
não é a sensação do sofrimento, mas a idéia de uma dor, de um desprazer, de um
inconveniente — a “pena” da idéia da “pena”. A punição não precisa, portanto
utilizar o corpo, mas a representação. (FOUCAULT, 2009 p. 114).
O caráter de instituição total é manifestado não apenas nos
procedimentos que envolvem os internos, mas no atendimento aos visitantes, que
são submetidos as normas e regras para entrarem na unidade. Esses procedimentos
são legitimados pelo discurso da segurança, tais
elementos são característicos do que Goffman nomeia como a “vida intima da instituição total”, que
consiste em consideramos:
3. 2. As disciplinas e a vida do adolescente na Unidade.
Ao avaliar se realmente são oferecidos ao adolescente
interno na Unidade os direitos e o atendimento previstos e especificados no ECA
e no SINASE, abordados no item 2.1, 2.1.1 e 2.1.2 deste capítulo, conclui-se
que a unidade terá um longo caminho a percorrer para chegar ao mínimo do
exigido pela legislação citada. Mesmo havendo um grande avanço no atendimento
oferecido aos adolescentes, sendo que a unidade conta com um número de
profissionais suficientes na equipe técnica para realizar atendimento, bem como
o número de internos é o apropriado para a estrutura da unidade, conforme a
definição do próprio SINASE.
É desconcertante observar que ainda predomine na
rotina da unidade ações e procedimentos oriundos da dinâmica carcerária,
mostrando o quanto o sistema socioeducativo é semelhante ao sistema
penitenciário. Os adolescentes, por exemplo, são encaminhados para medida
socioeducativa pelo Juizado da Infância e Juventude ou via Delegacia Especial
de Atendimento ao Adolescente Infrator – DEAAI, e cabe à unidade acolher e
abrigar esses adolescentes, o que geralmente é feito pela equipe de
socioeducadores através do procedimento de recepção.
O procedimento de recepção consiste no adolescente
passar por revista das roupas, dos cabelos, de objetos pessoais, retirada de
piercings[3],
alargadores[4]
e brincos, revista íntima, onde ele deve retirar diante de dois socioeducadores
toda a sua roupa, sem exceção de nenhuma peça. Em seguida, o adolescente é
levado para a triagem (quarto escuro e pequeno), onde permanecerá por três
dias até ser encaminhado para o alojamento para juntar-se aos demais internos.
Esses alojamentos são pequenos cúbicos, escuros,
insalubres, abafados e com pouca ventilação, onde as janelas e portas foram
substituídas por grades iguais às usadas em celas de presídios. As únicas coisas que podem
permanecer dentro do alojamento são colchões de espessura muito fina, que são
fornecidos pela unidade, televisão, aparelho de DVD ou videogame que cabe a
família levar para o adolescente, de duas a três mudas de roupas, dois lençóis
finos e produtos de higiene pessoal como sabonete, creme dental, escova de dentes,
pente e desodorante.
Para dormir, os adolescentes colocam sobre o chão ou
em camas de concreto seus colchões, bem como eles organizam e guardam seus
demais pertencem em algumas sacolas plásticas e as amaram nas grades do
alojamento. Todo esse conjunto de ações é utilizado para manter a organização
da unidade, dando contornos as disciplinas, como destaca Foucault (2009, p.
174):
As disciplinas, organizando as “celas”, os “lugares” e
as “fileiras” criam espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais funcionais
e hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação;
recortam segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam
lugares e indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma
melhor economia do tempo e dos gestos.
O alojamento é conhecido e chamado pelos próprios
adolescentes internos como “cela”[5], e
a permanência dentro dele delineia mais um aspecto disciplinador e totalizador
da unidade, ao contrário dos preceitos do SINASE, que estabelece que o
alojamento deveria ser um local exclusivamente reservado para descanso.
Dentro da unidade, ele é destinado para reclusão dos
internos, sendo que é neles que os adolescentes passam maior parte do tempo,
principalmente nos finais de semana, onde são confinadas em tempo integral,
evidenciando a tendência de “fechamento” presente nas instituições totais, como
demostra Goffman (1974, p. 11):
Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa
sociedade ocidental, verificamos que algumas são muito mais “fechadas” do que
outras, Seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira a
relação social com o mundo externo e por proibições a saída que muitas vezes
estão incluídas no esquema físico (…) A tais estabelecimentos dou o nome de
instituições totais.
O aspecto “fechado” da unidade e os controles de disciplina dão
contornos ao que Bourdieu (1989) nomeou de sistema simbólico, que doutrinam e
legitimam a dominação, por meio da violência simbólica, onde os sujeitos são
induzidos e submetidos a um conjunto de critérios e normas imposta através do
poder simbólicos, portanto:
Sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos de
imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a
dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço da
sua própria força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão
do Weber, para “domesticação dos dominados”. (BOURDIEU, 1989, p. 11).
Desse modo, os adolescentes passam por um processo de ressignificação de
valores, que é crucial para o seu desenvolvimento após sair da unidade, e que
pode ser desenvolvido de forma perigosa no regime de limitação da liberdade.
Podendo inclusive contribuir para construção de uma personalidade violenta ou
agravar a personalidade agressiva do adolescente.
Durante a privação de liberdade, o adolescente atribui suas preferências
e prioridades aos momentos como, as visitas de familiares, o lanche, as
atividades fora do alojamento, atendimento psicossocial, autorização para
utilizar boné, assistir filmes e participar de outras atividades culturais. Porém, nenhum desses momentos é comparando com o dia de
visitas. Receber a visita de seus familiares torna-se a maior alegria do
adolescente, tanto que a pior sanção disciplinar na opinião dos adolescentes e
dos servidores da unidade é a redução do tempo de visita.
O dia que antecede o dia de visita é marcado pela
ansiedade e preparação, os adolescentes escrevem cartas se arrumam, lavam suas
roupas para estarem vestidos da melhor maneira possível e capricham na limpeza
de seus alojamentos, tudo precisa ficar perfeito para receberem seus
familiares. A visita torna-se um fenômeno tão importante para esses
adolescentes que altera o cotidiano na unidade, entendendo que o cotidiano
segundo Certeau é aquilo que nos prende
intimamente, a partir do interior (1994, p. 31), ou seja, os adolescentes
alteram sua rotina intima e diária, para organizarem-se para receber suas
visitas.
3.3. Quando entra a
família: Dia de Visita.
Ainda que o SINASE estabeleça como um dos princípios
da execução da medida socioeducativa, o fortalecido dos vínculos familiares e
comunitários no processo socioeducativo, o espaço oferecido pela Unidade para
participação dos familiares durante a internação do adolescente ainda é mínimo.
Portanto, os familiares dos internos só podem acessar
a unidade nos seguintes casos: 1) para participar da entrevista com a equipe
técnica da unidade, que visa à elaboração do
Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente, que é exigido pelo
Juizado da Infância e Juventude para acompanhar o desenvolvimento do mesmo
durante a medida; 2) Quando solicitado pela Direção e equipe técnica da
Unidade, geralmente para fins de levar alguma pertence ou documento ou tomar
ciência de faltas graves cometidas pelo adolescente e 3) Para visitá-lo no dia
e horário estabelecido pela direção da Unidade.
A visita é realizada todas as sextas-feiras, das 8
horas às 12 horas, sendo permitida a entrada dos familiares até às 11 horas.
Antes da entrada, os familiares precisam passar por revista íntima, a revista
dos pertences pessoais, da alimentação e dos objetos que levam para o
adolescente. A unidade estabelece regras para entrada de produtos, objetos e
alimentos, bem como a quantidade de cada item. Essa lista de regras encontra-se
nos anexos deste estudo.
3.3.1. Revista íntima
O momento da visita é tão esperado pelos adolescentes,
quanto por seus familiares, mesmo quando para esses o ritual de passar pela
revista, principalmente a revista íntima seja extremamente desagradável e
humilhante como apontaram todas as informantes. Todos os visitantes devem passar pelo procedimento da
revista íntima, que é realizado dentro do banheiro da unidade. No caso das
mulheres, duas socioeducadoras realizam a revista, no caso dos homens dois
socioeducadores.
O procedimento consiste no visitante retirar toda sua
roupa, agacha-se três vezes de frente e de costas sobre um espelho que fica no
chão, de forma que os (as) socioeducadores (as) possam enxergar algo que possa
está dentro do canal vaginal ou anal do (da) visitante. Em seguida também é
conferida a boca, os cabelos e as roupas do (da) visitante. No procedimento de
revista íntima e de alimentos nem sempre as socioeducadoras utilizam luvas e
máscaras. A falta dos materiais de higiene necessários para as funcionárias
realizarem as revistas é frequente.
A forma precária como a revista dos alimentos e a
revista íntima são realizadas na unidade, deixam tanto as/os servidores,
visitantes e adolescentes expostos a doenças e a contaminações. Todos os familiares com os
quais conversei durante a pesquisa, sem exceção, indicaram a revista íntima
como o pior procedimento pelo qual precisam passar para visitar seus filhos,
como relata a mãe:
Eu acordo bem cedo para fazer aquela comida gostosa
para o meu filho, levo a comida pra ele toda arrumadinha na vasilha de
plástico, tudo bonitinho, elas (referindo-se às socioeducadoras) bagunçam tudo.
Mistura tudo na hora de revistar, parece assim que estão mexendo com comida que
vai entrar para porco, eu fico muito chateada. (informante).
Eu faço de tudo para chegar
cedo, pois preciso entrar no trabalho às 10 horas, mas toda vez que eu chego na
unidade, sempre tem duas ou três mães na minha frente e mesmo assim eu demoro
muito para entrar. Elas (referindo-se as socioeducadoras) demoram muito tempo
revistando os alimentos e acabam atrasando muito para atender, eu sempre fico
pouco tempo com meu filho. (informante)
Observei que a demora na revista não é causada pela
suposta vagarosidade das socioeducadoras, mas pelo baixo quantitativo de
servidoras e à grande demanda de sacolas para serem revistadas, cada visitante
leva aproximadamente de 04 a 10 sacolas por visita. Contudo, o fato do
visitante levar muitas sacolas não significa necessariamente que tudo será para
um único adolescente.
Na maioria das vezes os produtos levados pelos
familiares não são apenas para o adolescente, mas para todos que estão no
alojamento com ele, principalmente para aqueles que não recebem visitas
frequentemente. Revelando assim
uma rede de solidariedades entre os familiares dos adolescentes e outros
internos na Unidade. Além da própria solidariedade existente entre eles,
conforme a seguinte observação:
Hoje presenciei um ato de solidariedade, um
adolescente que foi liberado semana passada, compareceu na visita mesmo sabendo
que não entraria, para entregar roupas e comidas para outro adolescente
internado na unidade, com quem dividiu alojamento e que nunca recebeu visita
(diário de campo. Agosto de 2012).
Nas observações realizadas nos dias de visitas, notei
o quanto os sentimentos de solidariedade e atenção permeiam o ambiente,
transformando o ato de visitar em demonstração de carinho, afeto e
companheirismo. Na maioria das vezes o adolescente compartilha o que sua mãe
trouxe com os demais colegas de alojamento que não receberam visitas. A mãe não
visita apenas o filho, ela visita todos os adolescentes que estão no alojamento
com ele.
3.3.2. A presença
predominante das mulheres nos dias de visita.
Quando iniciei a pesquisa, sabia empiricamente que as
mulheres, em especial as mães, eram as que visitavam com maior frequência os
adolescentes durante a internação. Esse dado foi confirmado na observação
participante e no levantamento de dados realizado através do livro de registro
de visitantes da unidade.
Com base no livro de registro de visitantes, é
possível observar que em 2010, os adolescentes receberam 546 visitas, das
quais, 55% representam as visitas das mães (observe gráfico I). Em 2011, o número de visitantes dobrou, registrando o
total de 1.398 de visitas, sendo que o número de visitas das mães apresentou
crescimento, representando 63%, das visitas. (conforme gráfico II),
E em 2012, foi registrado o número total de 1.834 visitantes, destes 86%
é composto de mulheres, destas 54% são mães e 28% são avos, irmãs, tias e prima
(conforme gráfico III). O número de visitas dos pais em todos os anos represou
10% das visitas (conforme gráficos I, II e III).
Figura 19 - Gráfico I – percentual de visitantes,
distribuídos por grau de parentesco em 2010.
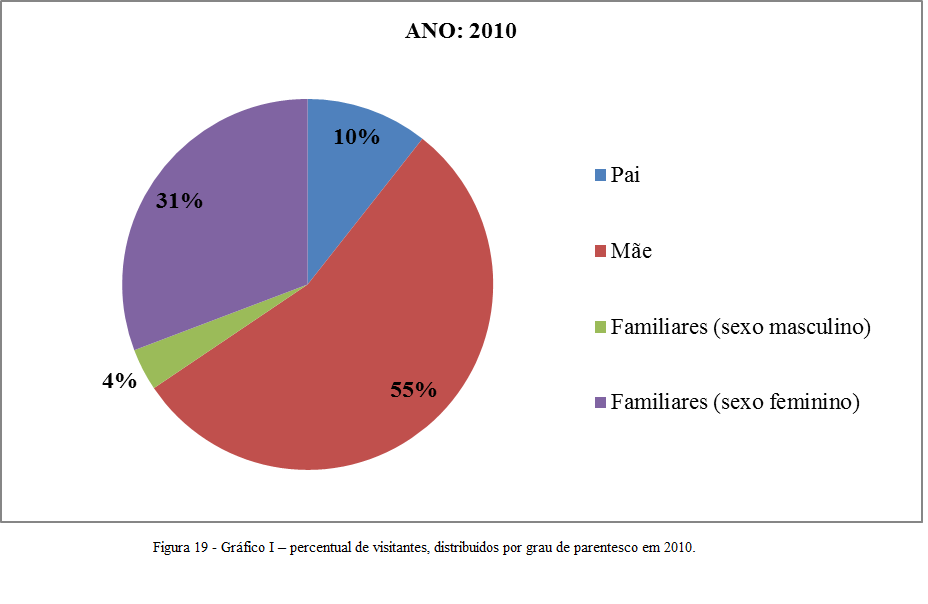
FONTE: Livro de visitas da UIMS-I, gráfico elaborados pela autora.
Figura 20- Gráfico II– percentual de visitantes,
distribuídos por grau de parentesco em 2011.
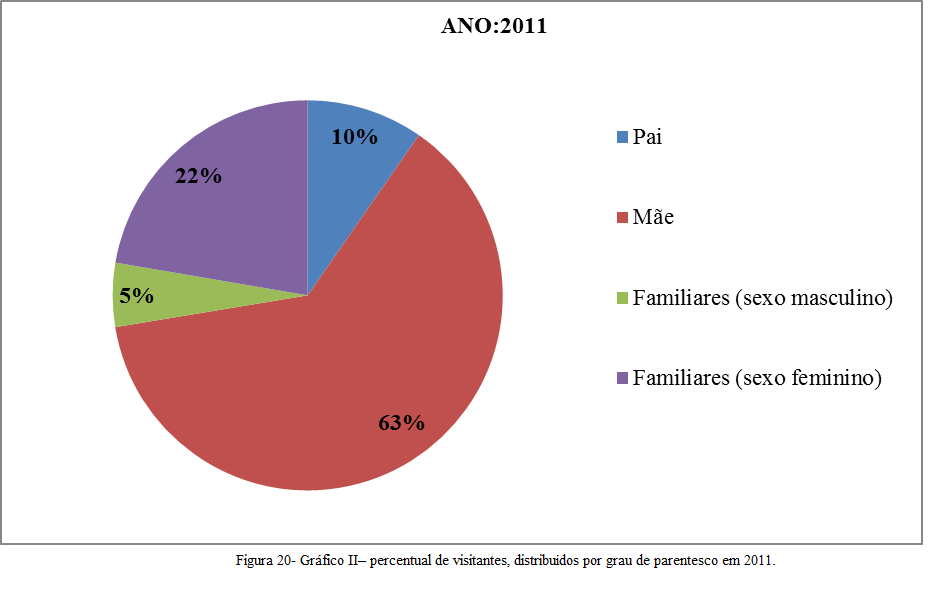
FONTE: Livro de visitas da UIMS-I, gráfico elaborados pela autora
Figura 21 - Gráfico III – percentual de visitantes,
distribuídos por grau de parentesco em 2012.
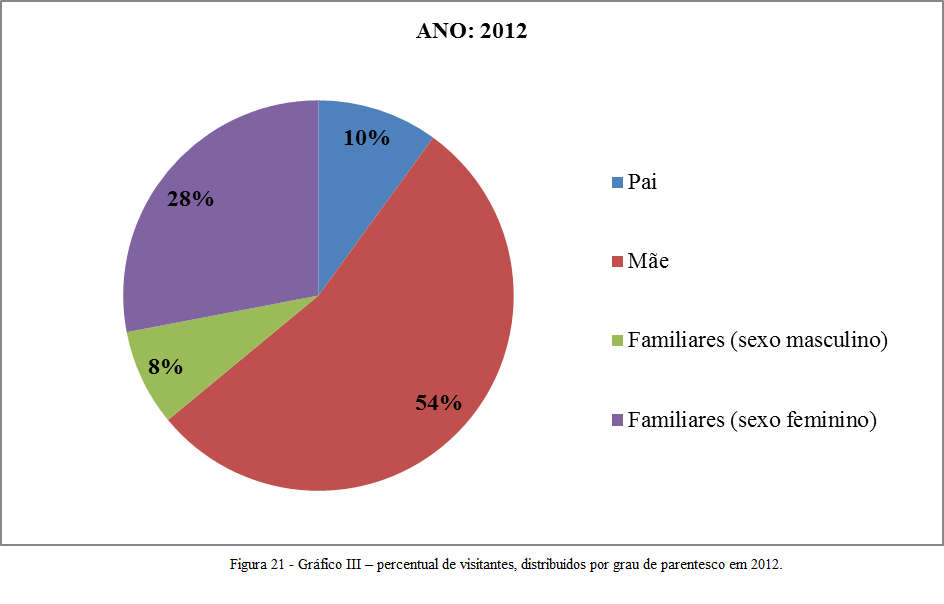
FONTE: Livro de visitas da UIMS-I, gráficos elaborados pela autora.
Esses índices refletem a seguinte realidade, as mães
em sua grande maioria, são não só as responsáveis em visitar o filho, como em
acompanhar o adolescente durante toda a execução da medida. Uma das possíveis respostas para o fato da
responsabilidade de acompanhar os filhos privados de liberdade recair sobre a
mãe pode ser explicada através da dificuldade dos pais em passar pela revista
íntima. No relato de uma informante, ela conta que o esposo é um pai muito
dedicado e presente, mas que não aceita passar pelo procedimento de revista íntima,
preferindo ficar sem ver o filho, como ela explica:
Ele diz que ele nunca
vai tirar a roupa pra outro homem e
muito menos deixar outro homem tocar nele,
ele diz que esse negócio de ficar se
agachando na frente de espelho não é coisa de macho que tem vergonha
não. Se tiver que fazer isso pra ver o filho, prefere nem ver. Ele não aceita
de jeito nenhum passar por essa humilhação.
O depoimento acima reflete
a própria consciência coletiva que Durkheim define como um “conjunto das
crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade
forma um sistema determinado com vida própria” (2010, p. 50). Onde os homens
compartilham uma concepção comum sobre a revista íntima ser algo impróprio para
os indivíduos do sexo masculino.
Conhecer o funcionamento e
os procedimentos ajuda a compreender a unidade de forma mais ampla, e a
entender os processos sociais que sobrecarregam a figura feminina e materna da
responsabilidade de acompanhar os filhos durante a internação, revelando os
significados do “Amor. Só de mãe”.
CONSIDERAÇÕES
A
partir desse estudo etnográfico, que consistiu na descrição e explicação dos cenários sociais que envolvem mãe e filho
privado de liberdade, com objetivo de evidenciar as consequências sociais
provocadas pelo vínculo entre mãe e filho no contexto de privação de liberdade
do filho adolescente.
E
para chegarmos na resposta para a seguinte pergunta: Por que recai sobre a
figura feminina a responsabilidade de acompanhar o filho adolescentes? Foi
necessário aprofundarmos nosso entendimento sobre os aspectos culturais,
históricos e sociais da maternidade, buscando compreender a relação entre mito
do amor materno e a expressão “amor só de mãe” à luz das teorias de Badinter,
Forna e Kitzinger, buscando compreender
os significados atribuídos pelos filhos através desta expressão.
Dessa forma, foi fundamental entender o
envolvimento desses jovens com a criminalidade, tendo em vista a necessidade de
contextualizar o que são medidas socioeducativas e compreender o sentindo da
“vida loka”, uma expressão adotada por eles para indicar um momento tão
delicado de suas vidas.
E para chegar ao objetivo da pesquisa, a
necessidade de desenvolvê-la como um artesanato intelectual como aconselha
Wright Mills, tornou-se um exercício desafiador, e, portanto, repleto de
dualidades. E assim, como todas as pesquisas, afinal, na pesquisa social, como
diria Bourdieu (1989, p. 18) nada é mais universal e universalizável que as
dificuldades.
Assim, o desafio de realizar uma pesquisa
etnográfica do cenário urbano, tornou-se através do campo meu ritual de
passagem de graduanda para graduada possível. De tal modo que cada relato
contado por uma mãe era como uma peça de um quebra cabeça, que às vezes parecia
ter sentido e em outros momentos eram confusos, causando dúvidas e
reflexões. Contudo, percebi o quanto
essa aparente confusão é própria de quem encarar a pesquisa de campo.
A
experiência de campo proporcionou-me uma experiência única, marcada por momentos
excepcionais de aprendizado e descobertas, que propiciou o contato com as mães,
os adolescentes, servidores e unidade, ampliando meus olhares diante da
pesquisa, sendo possível contextualizá-los através de descrição de suas
dimensões sociais, informações e dados, relatos, imagens e vivências.
A
realização da pesquisa por meio do contato mencionado torna visível o
descompasso entre o proposto pela legislação de proteção da criança e
adolescente (ECA e SINASE) e a realidade da unidade socioeducativa, que no
lugar de promover um processo socioeducativo, de caráter predominantemente
pedagógico, priorizam a vigilância e reclusão dos adolescentes, relevando-se
assim, sua posição enquanto instituição total.
Provocando
a necessidade de entender o que está na base dessas medidas socioeducativas,
que em primeiro momento, apresentam-se como uma política pública que ainda é
estigmatizadora das juventudes[6]
das classes mais pobres.
Os
significados por trás da frase “amor só de mãe” mostram o drama e o estigma que
marcam a vida dessas mães e de seus filhos, presentes na dicotomia da relação
que o filho estabelece em seu meio social, pois ao mesmo tempo que expressa
todo seu amor e devoção pela mãe, ele se identifica como um “vida loka”, fato,
que acarretam a ele e a própria mãe sentimentos de angústia e sofrimentos.
E
que são em parte, agravados por vários setores da sociedade que defendem
fervorosamente a redução da maioridade penal, sobre os pilares da falsa ilusão
de impunidade dos adolescentes infratores no Brasil. Demonstrando o quanto é necessário
que as pesquisas sociais e humanas, sobre medidas socioeducativas busquem
mostrar a realidade externa e interna dessas unidades de internação, dos
adolescentes e seus familiares.
Assim,
cheguei à resposta que recai sobre a mãe, a responsabilidade de acompanhar o
filho durante todo o processo de execução da medida, devido uma consciência
coletiva que projeta sobre a figura feminina a responsabilidade materna de
cuidar dos filhos, principalmente quando estão em situação de vulnerabilidade.
Sendo
as mães, diante desse entendimento, obrigadas a passar por todas as condições
impostas pela unidade para visitar seu filho, sendo a revista íntima uma
representação da violência simbólica na qual essas mães são submetidas. Que
consiste em um ato de imposição simbólica, que conforme Bourdieu trata-se de
uma ação que “tem a seu favor toda a força do coletivo, do consenso, do senso
comum, porque ela é operada por um mandatário do Estado, detentor do monopólio
da violência simbólica legítima” (1989, p. 146).
Deste
modo, espero que esse estudo desperte nas instituições de defesa dos direitos
humanos para necessidade de implantar políticas públicas efetivas, que busquem
de fato humanizar o atendimento socioeducativo e a estrutura física das
unidades de internação, tornando a família protagonista do processo de
socioeducação desses adolescentes.
Almejo
ainda, que essa pesquisa auxilie na construção de mecanismos que excluam essas
violências simbólicas presentes durante a execução do atendimento
socioeducativo e que contribuem para construção de estigmas do adolescente e
seus familiares. Enquanto não desconstruímos esses estigmas sociais que cercam
mãe e filho, não podemos promover uma transformação social na vida dessas
pessoas, e esse drama sempre estará presente em nossa sociedade.
Diante
dessa breve leitura do mundo que envolve mães, filhos e unidade socioeducativa,
busquei contribuir para uma ciência social que segundo Giddens (2009)
empenhem-se em primeiro lugar e acima de tudo, na reelaboração de concepções do
ser humano e de fazer humano, reprodução social e transformação social. E para finalizar,
lembro à importância que devemos dar as seguintes palavras de Florestan
Fernandes (1976, p. 26): “Em nossa época, o cientista social precisa tomar
consciência da utilização social e do destino prático reservado a suas
descobertas”.
REFERÊNCIAS
BADINTER, Elisabeth. Sobre a identidade masculina. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira, 1993.
_________. Um Amor
Conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1985.
BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo: A experiência Vivida.
Difusão Européia do Livro. São Paulo. 1967
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução de
Maria Helena Kühner. 4 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
_________. O Poder Simbólico.
tr. Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: DIFEL, 1989.
BRASIL. Coletivos
Jovens de Meio Ambiente, Brasília - DF: S/E, 2006.
_________. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de jul. de
1990. 10. ed. Atual e corrigida. São Paulo: Saraiva, 2000.
_________. Levantamento Nacional do
Atendimento Sócio Educativo realizado pela Subsecretaria de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria Especial de Direitos
Humanos, da Presidência da República (SPDCA / SEDH / PR) – 2006
_________. Sistema Nacional De Atendimento Sócioeducativo -SINASE.
Secretaria Especial dos
Direitos Humanos. Brasília: CONANDA, 2006.
_________. Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (LEI Nº 12.594 de
18/01/2012).
_________. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de jul. de
1990. 10. ed. Atual e corrigida. São Paulo: Saraiva, 2000.
_________. Levantamento Nacional do
Atendimento Sócio Educativo realizado pela Subsecretaria de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria Especial de Direitos
Humanos, da Presidência da República (SPDCA / SEDH / PR) – 2006
CALLIGARIS, Contardo. A adolescência. São Paulo: Publifolha, 2000.
DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. São Paulo, Ed. Martin Claret, 2002.
FORNA, A. Mãe
de todos os mitos: como a sociedade modela e reprime as mães. Rio de
Janeiro: Ediouro, 1999.
GOFFMAN,
Erving. Estigma: Notas sobre a
manipulação da Identidade Deteriorada. 4ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
_________. Manicômios, Prisões e
Conventos, São Paulo: Perspectiva, 1974.
JODELET, D. Representações
sociais: um domínio em expansão. In: As representações sociais. Jodelet,
D. (org.). Rio de Janeiro: EdUerj, 2001.
KITZINGER. S. (1978). Mães. Um estudo antropológico da maternidade. Lisboa: Ed. Presença,
1978.
LYRA. Diego. A república dos meninos: juventude, tráfico
e virtude. Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2013.
MACHADO, Lia
Zanotta. Masculinidades e violências:
gênero e mal-estar na sociedade contemporânea. In: Masculinidades. São
Paulo: Boitempo Editorial/Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004.
_________. Campo
Intelectual e Feminismo: alteridade e subjetividade nos estudos de gênero. Brasília, Série
Antropologia, 1994.
MADEIRA.
Felicia Reicher. Quem mandou nascer
mulher? Estudos sore crianças e adolescentes pobres do Brasil. Rio de
Janeiro: Rosa dos Tempos,1997.
MALVASI, Paulo Artur. “Entre a frieza, o cálculo e a ‘vida loka’:
violência e sofrimento no trajeto de um adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa”, Saúde e Sociedade, 156-170, 2011.
MESTRE, Simone de Oliveira. “Não é do brinca, é do Vera”: Um estudo de caso sobre meninas que
cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade. ANAIS do II
CONINTER - Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades,
Belo Horizonte, 8 a 11 de outubro de 2013. INSS 2316-266X.
MISKOLCI R.. Do desvio ás diferenças. Teoria &
Pesquisa, nº47, São Carlos/UFSCar, 2005.
MISSE, Michel. Cinco teses equivocadas sobre a
criminalidade urbana no Brasil. Uma abordagem critica, acompanhada de sugestões
para uma agenda de pesquisas. Exposição apresentada no Seminário “Violência
e Participação social no Rio de Janeiro”, em 17 de abril de 1995. Texto
disponível na página http://www;necvu.ifcs.ufrj.br Acessado em 8/05/2011.
ONU. Regras
Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores (Regras de
Beijing) Adaptadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução
40/33, de 29 de Novembro de 1985.
RONDÔNIA. Regimento Interno da Unidade Socioeducativa
de Internação Masculina Sentenciada I. Porto Velho. 2012.
_________. Plano Político Pedagógico da
Unidade Socioeducativa de Internação Masculina Sentenciada I. Porto Velho.
2012.
_________. Ministério Público. Manual de
Orientação para Programa de Atendimento ao Adolescente Privado de Liberdade.
- SOCIOEDUCAR. Porto Velho.
SAFFIOTI, Heleieth Iara
Bongiovani. Rearticulando gênero e
classe social. In: COSTA, A. de O., BRUSCHINI, C. (orgs.) Uma questão de
gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos. 1992.
SCAVONE. Lucila. Dar a vida e cuidar da vida: feminismo e
Ciêncis Sociais. São Paulo: EDUNESP, 2004
SILVA. E. R. A.
e Gueresi, S. (2003) Adolescentes em
conflito com a lei: situação do atendimento institucional no Brasil.
Brasília: IPEA/Ministério da Justiça.
USP.4º Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil,
realizado pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo
(NEV-USP).
VELHO. Gilberto. Um antropólogo na cidade: ensaios de
antropologia urbana/Gilberto Velho; [Organizadores Hermano Vianna, Karina
Kuschnir, Celso Castro]. Rio de Janeiro, Zahar, 2013.
VITALE, Maria Amália.
Famílias mononoparentais: indagações. Revista
Serviço Social e Sociedade, n.71, ano XXIII, São Paulo: Cortez, Set/2002.
VOLPI, M. O adolescente e o ato infracional. Cortez Editora, 1997.
_________. Sem liberdade, sem direitos: a experiência de privação
de liberdade na percepção do adolescente. São Paulo: Cortez, 2006.
WELZER. Lang. Os Homens e o masculino numa perspectiva de
relações sociais de sexo. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004.
ZALUAR, A. Exclusão e políticas públicas: dilemas
teóricos e alternativas políticas. Revista Brasileira de Ciências Sociais,
São Paulo, n. 35, Paulo, 1997. <www.scielo.org.texto>. Acesso em: 18 jun.
2011.
_________. A máquina e a
revolta: as organizações populares e o significado da pobreza. 2ª ed. São
Paulo: Brasiliense, 2000.
_________. Integração perversa:
pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
_________. Teleguiados e
chefes: juventude e Crime. In: RIZZINI, Irene (org). A criança no Brasil
hoje: desafio para o terceiro milênio. Rio de Janeiro: Universitária Santa
Úrsula, 1993.
ZAMORA, M. H.
(2004). Outra América Latina para los
niños y adolecentes. In: RIZZINI, Irene, ZAMORA, Maria Helena, FLETES,
Ricardo (orgs.). Niños y adolecentes creciendo en contextos de pobreza,
marginalidad y violencia en América Latina. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio,
CIESPI, Childwatch Internacional.
ZOLA. E.
Le bonheur dês dames, Paris:
Fasquelle, 1988.
NOTAS
[1] Na época a FASER era responsável
pela gestão das medidas socioeducativas em Rondônia e foi extinta em 2007
[2]Essa situação foi verificada in
loco, quando observei que os muros apresentavam um sentindo mais amplo que
simplesmente que de uma fronteira física, lembrando a frase “o que os muros
sociais tem pra me contar” presentes na letra da música do grupo O Rappa.
[3] Piercing é uma maneira de modificar o
corpo humano, colocando peças de metal muito parecidas com brincos, que podem
ser colocadas em diversas partes do corpo.
[4] Alargadores são acessórios para modificação corporal que têm como objetivo aumentar a
perfuração dos lóbulos das orelhas
[5]Conforme os adolescentes e mães
relataram em nossas conversas.
[6]
Recentemente no Brasil tem-se enfatizado a utilização do termo no plural –
juventudes – como forma de assumir que o termo é plural, que há inúmeros
movimentos de juventude com temas de interesse, estratégias de atuação e formas
de organização diferentes entre si. (BRASIL. Coletivos Jovens de Meio Ambiente,
2006, p. 11).