Marcilene
de Souza Menezes (UFPA)
RESUMO: O presente
trabalho traz o resultado de minha pesquisa em relação a identidade cultural no
Marajó, abordando a figura do índio marajoara e sua influência na vida dos
brevenses. Para tanto nos embasaremos a princípio nos estudos de Pacheco
(2010), especialmente no texto “A conquista do ocidente marajoara: índios,
portugueses e religiosos em reinvenções históricas”. Para isso faço um
levantamento histórico dos índios que residiram na região marajoara, e de sua
importância para o processo de colonização dessa região. Além disso, faço uma
entrevista com uma família brevense oriunda do rio Mapuá, município de Breves,
apesar de não termos relatos que comprovem a ligação direta entre os
entrevistados com as tribos indígenas, podemos confirmar as influências dos
mesmos através de vários aspectos de sua cultura e costumes dos brevenses.
Buscaremos respaldo teórico em Hall, (2001). Tal trabalho revela, o final do
mesmo, que as identidades culturais das sociedades não são estáveis, nem fixas,
muito pelo contrário, conforme aponta Hall em “A identidade cultural na
pós-modernidade”.
PALAVRAS
CHAVE: Índio; Miscigenação; Preconceito; Identidade; Marajó.
1-
INTRODUCÃO
Neste trabalho,
investigaremos a temática relacionada aos povos indígenas no Marajó. Este
assunto foi escolhido por se tratar de um tópico que, apesar de relevante para
nossa comunidade, pouco tem sido discutido nos meios educacionais, como a universidade.
Em primeiro lugar abordaremos registros de ocupação indígena do Marajó. Para
tanto nos embasaremos a princípio nos estudos de Pacheco (2010), especialmente,
o texto “A conquista do Ocidente marajoara: índios, portugueses e religiosos em
reinvenções históricas”. Tal texto relata que no decorrer da história essa
identidade indígena foi reconstruída por grupos de outras nações, dentre elas
os portugueses, que vieram com uma proposta de catequizar os indígenas.
Sobre a consolidação,
Pacheco (2010, p. 15) relata “Resultando em frequentes tragédias para
consolidar um projeto de riquezas e ampliação de exércitos de almas”. No
entanto os nativos não assistiram inerte essa implantação.
O
labirinto de ilhas, os “Marajós”, e seus habitantes cravados na foz do território
a ser conquistados, não assistiram, passivamente, àquelas estranhas chegadas de
gentes tão diferentes de suas visões humanas. Experientes em contatos e guerras
tribais anteriores vividas, entre si e com outras nações, Aruãns, Sacacas,
Marauanás, Caiás, Araris, Anajás, Muanás, Mapuás, entre outras e os batizados
de Nheengaíbas, enfrentaram as armas portuguesas por quase 20 anos. Esse
processo já demonstra quão difícil foi a conquista da Amazônia e como seus
nativos habitantes, “da ilha que estava atravessada na boca do rio Amazonas, de
maior comprimento e largueza que todo o reino de Portugal”, posicionaram-se
diante da voraz ganância lusitana (PACHECO, 2010, p. 18).
Pacheco introduz em na
sua narrativa relatos da influência dos missionários católicos, sobre a
conquista do Marajó que através de suas palavras evangelizadoras e
pacificadoras amenizavam o conflito entre os povos. Nos relatos históricos
pesquisados por ele, são em muitos narrados em um tom épico os missionários
como grandes desbravadores da Amazônia, num outro momento há exaltação dos
indígenas como grandes responsáveis por essa conquista. No entanto é fato que
muitas histórias vividas ficaram a margem da escrita e ocultadas ao longo da
construção histórica do Marajó e da Amazônia.
Indígenas e outras raças
mesclaram e configuraram uma realidade cultural na região marajoara. Do lado
europeu podemos destacar diversos aspectos culturais, tais como: as celebrações
de missas, festas católicas que predominam nas festividades dessa região, o
abandono da língua materna e a valorização da língua portuguesa, as construções
de casas coloniais são exemplos dessa nova configuração do Marajó. Do lado
indígena, são evidentes as influências na alimentação como: tacaca, tapioca,
tucupi, açaí, farinha, encontramos outros aspectos como as: fomentações com
azeite de copaíba e buchinha, o habito de dormir em rede, o artesanato com as
grafias marajoaras, são reflexos dessa nova configuração.
Em segundo lugar
pretende-se refletir sobre as consequências desses fatos históricos, a
dizimação de indígenas nessa região. Investigaremos traços deixados por nossos
antepassados, através de uma árvore genealógica que possa evidenciar memórias
que justificam essa miscigenação contemporânea. Com respaldo no trabalho de
pesquisa de Maciel (2014) que concebe a sociedade atual, com pensamento de
negação de suas raízes, é “resultado de uma política de apagamento de
identidade indígena” (MACIEL,2013, p.10). Analisaremos se há negação nos
relatos dos pesquisados, pois, embora não nos identifiquemos como indígenas,
não podemos negar as nossas raízes, os nossos antepassados são oriundos de uma
cultura indígena, ouvimos e vivemos hoje resquícios de suas memórias.
O foco desta pesquisa é
contribuir para o conhecimento e estudo de uma identidade cultural na região
marajoara mais especificamente na parte Ocidental do Marajó, a qual Pacheco
(2010) classifica como Marajó das Florestas. Tomamos como base para conclusão
desse trabalho (RANGEL; GALANTE; CARDOSOS, 2013, p. 113-128), que comprovam com
fontes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a presença
indígena nas cidades e os fatores que contribuíram para esse processo. Nosso
propósito é apontar para futuras pesquisas sobre a presença de indígenas hoje
em Breves, descendentes dos povos tradicionais. Indígenas, no decorrer dos
tempos, foram encobertos ou ignorados pelo Estado e por nós habitantes desse
chão tão rico, rico em seus valores naturais, culturais e históricos.
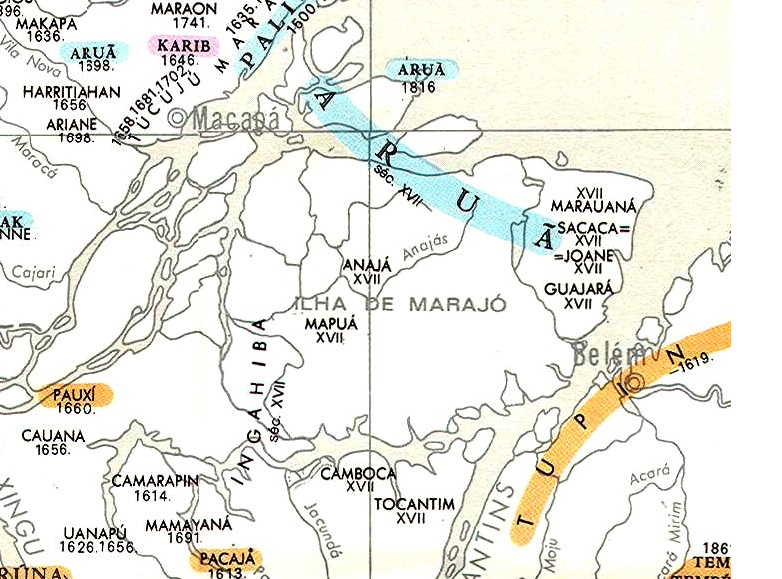
2-
HISTÓRIA
DOS INDIGENAS NO OCIDENTE MARAJOARA
Quando os
portugueses chegaram na região do Marajó no século XVI, havia habitantes e boa
parte desses grupos não aceitaram pacificamente a presença dos
colonizadores. Esses grupos lutaram bravamente atacando as embarcações
portuguesas. Sobre as nações indígenas marajoaras, Pacheco relata:
Muito deu
que fazer esta nação aos portugueses, com quem teve muitos debates, contendas,
e guerras. (...) Expediam-setropas contra eles, mas os Nheengaíbas (...)
zombavam das tropas, escondendo-se por um labirinto de ilhas, e de quando e
quando dando furiosas investidas, já em ligeiras canoinhas, que com a mesma
ligeireza com que de repente acometiam, com a mesma se retiravam, e por entre
as ilhas se escondiam as balas, e já de terra encobertas com as árvores, donde
despediam chuveiros de flechas e taquaras sobre os passageiros e navegantes,
que além do risco da vida, se viam impedidos a navegar o Amazonas, para onde
não tinham outro caminho, senão pelo perigoso furo do Tajapuru. (DANIEL, 2004:
368-9 Apud PACHECO, 2010, p.20).
Conquistar o Arquipélago do Marajó era fundamental para a navegação,
Pacheco (2010, p.20). “Apesar de, em 1623, os portugueses terem
conquistado, na fronteira com a grande ilha de Joanes, [...]. Para tanto, os
colonizadores precisavam vencer outro obstáculo: dominar Aruãns, no lado
oriental e Nheengaíbas, no lado ocidental, que povoavam o arquipélago de ponta
a ponta”. Os relatos que o religioso católico padre Antônio Vieira, através da
companhia de Jesus, com as armas do evangelho, entra no cenário de guerra e com
as características de Cristo mansidão, prudência e paciência consegue habitar
entre os nativos.
O grande Vieira, expondo a sua vida pela
dos portugueses, e aumento da pátria, se ofereceu para ir até os bravos
guerreiros, “acompanhado do seu Santo Cristo, o melhor peito de aço” de todos
os confrontos, usando a mesma tática com a qual a Companhia “conseguiu a paz
nas maiores empresas dos portugueses em todas as suas dilatadas conquistas da
Ásia, África e agora da América (DANIEL, 2004, 369 apud PACHECO, 2010, p. 25).
O
religioso veio consolidar a paz entre povos “e tendo discutido
entre si a proposta apresentada, cessaram as perniciosas guerras de 20 anos,
resolvendo abraçar a fé de Cristo e fazer as pazes com os portugueses” Pacheco
(2010, p. 25-26). Com o passar dos anos e as diversas vindas de
líderes religiosos para a região marajoara pode se constatar a existência de
uma pequena vila de morados na região de Breves, havendo a necessidade de
catequização por parte da coroa portuguesa e expansão de seu território como
pode-se verificar:
No ano de 1786, a 12 de Junho aportamos a um
pequeno lugar denominado Breves. Consta de alguns moradores pardos ou índios.
Não tem igreja, nem capela, e dista da freguesia que é a vila de Melgaço um dia
de viagem, por isso se acham muitos ignorantes na doutrina. Perguntando a um
grande número de mulheres e meninos quem era a Mãe de N. S. Jesus Cristo não
souberam responder-me. Preguei e ensinei o que pude em tão pouco tempo.
Recomendei a um homem mais inteligente que instruísse aos meninos, para o que
lhe dei alguns livros. Crismei, visitei-os nas suas casas estimulando-os ao
trabalho corporal e ao de salvação, e às cinco horas da tarde os deixamos
(SOARES, 1946, p.138 apud PACHECO, 2010).
Chegamos em um ponto onde nos
questionamos, quem somos? Como nos identificamos? Com todas essas misturas de
índios, portugueses e tantos outros, que de passagem por essas bandas vieram e
firmaram raízes compartilhando conhecimentos crenças, gastronomias entre outras
práticas, mesclaram e configuraram uma realidade cultural em
nossa região, com as celebrações de missas, festas católicas que predominam nas
festividades dessa região, o apagamento da língua materna, a valorização da
língua portuguesa, e as construções de casas coloniais juntam-se aos tacacas,
tapioca, redes, fomentações com azeite de copaíba e buchinha , artesanatos,
crenças, que são refletidas na nova configuração do Marajó.
3-
INDIGENAS
NO MARAJÓ HOJE?
Diante
do que abordamos sobre a existência indígena no Marajó, partimos para uma
pesquisa de campo como o intuito de descobrir se havia indígenas nos dias de
hoje nessa região. A nossa pesquisa foi realizada através da construção de uma
árvore genealógica de uma família residente no município de Breves, oriundos do
rio Mapuá zona rural deste mesmo município. Para tanto, optei por preservar o
anonimato da família pesquisada, abaixo descreverei as informações fornecidas
em entrevista com a família em questão:
A1. (S.M.F) 18 anos,
nascida no município de Breves, ensino fundamental incompleto, tem 10 irmãos,
mãe de um menino de 1 ano;
B1. (M.M.F) pai de
A1, aproximadamente 46 anos, nascido na vila Amélia, rio Mapuá município de Breves,
lavrador, casado, pai de 11 filhos, analfabeto, tem 7 irmãos, mudou-se pra zona
urbana município aproximadamente no ano de 1994, atrás de oportunidade de
trabalho e estudo.
B2. (L.M.F)
mãe de A1 e esposa de B1, nascida no Mapuá.
C1. (L.M.L) mãe de
B1, 72 anos, nascida no rio Amazonas, analfabeta, casada, mãe de 8 filhos,
morou por longo período no rio Mapuá zona rural do município de Breves, lugar
onde nasceram seus filhos, mudou-se para zona urbana em 1994, aproximadamente,
buscando oportunidade de trabalho e estudo para ela e seus filhos.
C2.(J.M.)Primeiro
esposo de C1.
C3. (D.F.) segundo
esposo de C1, 44 anos, nascido no rio Mapuá, não possui filhos com C1, mudou-se
pra zona urbana do município de Breves em meados de 1994.
D1. (C.M.L) mãe de
C1, faleceu em 2011, origem Macapá, estado do Amapá, morou um período no rio
Amazonas, viveu longo período no rio Mapuá, tinha 7 filhos que nasceram uns em
Macapá, outros Amazonase no Mapuá);
D2. (F.M.C) pai de
C1, esposo de D1, origem do Ceará, morou um período no rio amazonas, e viveu
por muitos anos no Mapuá e faleceu por volta dos anos 1980 no Mapuá.
Demonstração
gráfica da arvore genealógica:
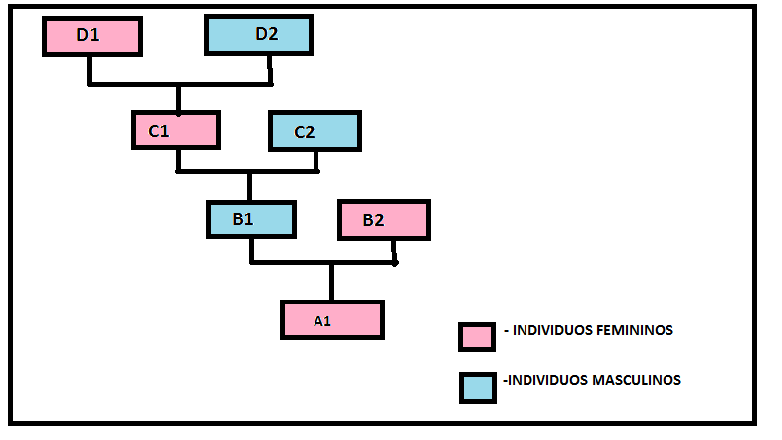
Partimos estrada adentro
(eu e minha mãe, maior incentivadora na caminhada estudantil e na vida a quem
deixo o registro de gratidão), em busca de informações para a construção desse
artigo, nossa pesquisa constatou não haver ligação direta entre os
entrevistados e os indígenas Mapuaenses, pois nossa principal colaboradora C1,
devido à idade avançada não pode nos confirmar tal informação. No entanto
podemos constatar que apesar de não ter essa ligação direta, nossos colaboradores
têm características físicas, traços indígenas, linguagem, e costumes que
evidenciam tal semelhança.C1, C3 e dois filhos casados não moram na zona urbana
de Breves (os filhos casados moram em casas separadas) e sim na estrada do
Arapijó, relatam que escolheram morar lá pela tranquilidade, segurança, e por
ter um espaço grande de terra para poder plantar, possuem uma roça e uma horta,
boa parte da colheita como farinha, tucupi, macaxeira, tapioca, e as hortaliças
são vendidas na feira da cidade, nesse trabalho eles tem como sócio um
paraibano (forma como ela se refere ao sócio da plantação).
Como fonte de renda tem o
lucro da parte da sociedade e a aposentadoria de C1. Seguiremos nessa pesquisa
com informações dadas em entrevista por C1, sobre a religiosidade com a vinda
para Breves começaram a frequentar uma igreja evangélica, aos finais de semana
vão a cidade para congregar, no entanto no momento do registro de dados para a composição da pesquisa pude
comprovar evidências de uma crença que persiste em não apagar-se no tempo, pois
C1 me relatou que os produtos da horta estavam maduros e não podiam realizar a
colheita pelo fato de ter morrido um parente e em respeito ao parente falecido
não se podia realizar o trabalho. Contemplei no convívio deles a criação de
animais um periquito, um gato, um cachorro e galinhas que transitavam
normalmente na casa.
C1 relatou que no período
em que morou no Rio Mapuá, antes de morar na beira do rio morou em uma casa
dentro da mata, e lá ouvia muitas histórias e dentre as que ouviu narrou uma “do grande jacaré, uma grande cobra e uma
vaca amarrada”.
Lá acima do lugar
da onde nós moremos tinha um lugar chamado as trincheiras, tinha um garapé lá,
quando dava seis hora da noite, ninguém num tinha pra meter a cara, ninguém num
ia, ninguém num ia,mas parecia bicho, visage, tem um lugar assim que é uma roda
assim,disque por debaixo é só um sulastro, e lá disque morava um grande jacaré
e uma grande cobra e corria atrás de gente vinha deixar aqui em baixo, no
garapé quando os pobre iam fazer uma viagem assim que era pra passar e ali so
frio muito, encostava na beira, deixava os bagulho, tem um lugar lá que chama
Pimentel, eles deixavo tudo os bagulho lá, e lá tinha uma vaca amarrada perto
de uma pracubeira assim grande assim,ai eles deixavo ia a reboque desse de
remar de vaia, ia cheio de mercadoria quando chegava lá eles num passava que
eles tinham medo que anoitecia eles deixavo tudinho aquela mercadoria ia lá e
lá ninguém ia com medo da vaca que era amarrada lá, essa vaca era real dos
antigos que morreram e deixaram ela lá, ela vivia, ela comia lá, ela bebia lá.
Olha eu num cheguei a ver mas teve pessoas que conviveu com nós que viu, eu
cheguei ver a cabeça prantada assim dentro do toco da pracubeira, era uma
imensa assim, mas aquilo pra pessoa passar ali há há há era preciso saber a
canoada de gente que ia e vortava. (Informação verbal de C1 no mento da
pesquisa) 09/01/15.
Relatos como este fazem
parte da nossa história e tantos outros que existem nas memórias de nosso povo.
O fato é que a criatividade é evidente nesses relatos, uns descrevem nas suas
histórias os animais como maldição na vida do homem, como um bicho muito grande
e que aterrorizava os moradores, os horários que eram permitidos para passar
num determinado lugar, outros narram os bichos como protetores da floresta, das
matas e dos igarapés, a simbologia de animais é manifestada em todas as
narrativas marajoaras.
Prosseguimos a pesquisa
C1nos contou que quando moraram no Mapuá exerciam a extração de madeiras, de
palmitos e seringueiras, como fonte de renda, com a escassez dessa obra prima
percorriam os rios atrás desse material que já era raro de se encontrar, sendo um
dos motivos de sua vinda para Breves. Com relação a educação escolar disse que
os patrões mandavam buscar na cidade professores para ensinar os filhos, os
filhos dos empregados e outros moradores da localidade não tinham esse
privilégio.
Constata-se os traços
físicos desse
povo ainda na população brevense e marajoara através de sua identidade,
fisionomia do rosto, cor da pele, na lisura dos cabelos, na beleza do corpo, na
simpatia do trato diário e principalmente em seu espírito guerreiro. As
culturas dos nativos com os povos que aqui chegaram justificam a miscigenação
contemporânea, pois misturaram-se construindo uma harmonia quase que
inseparável, as músicas que ouvimos soam das histórias de muitas gentes desse
mundo a fora o rock se mistura ao nosso ritmo carimbo, as festas folclóricas
com as juninas e carnavalescas, as nossas cerâmicas com as tantas obras de
artes de outros lugares dividindo o mesmo espaço físico.
Lamentamos que muitas vezes não
valorizamos o que é nosso, apegamo-nos a outros valores e nos apropriamos deles
como se de fato fossem a nossa cultura, muitas vezes por imposição de mídias e
poderes que nos apresentam como bom e necessário para a vivencia humana,
desvalorizamos as matas e os igarapés, a nossa gente, as nossas histórias, que
são relatadas pela boca de homens e mulheres quotidianamente que passam
despercebidas por nós moradores deste chão. Misturamos e reinventamos dia a dia
a construção de uma nova identidade marajoara.
CONCLUSÃO
Embora a atual população
da região do Marajó não se identifique como indígenas não se pode negar as
raízes que são oriundas de povos indígenas, seus antepassados viveram e relatam
histórias que marcam uma cultura, valores e costumes que persiste no dia a dia
do marajoara. A imagem do indígena
desaparece na construção da região marajoara e o papel primordial que os nativos
tiveram em desbravar e expandir o nosso território, a forma como viviam, as
práticas dos costumes e das crenças que se estende a nós, que muitas vezes
usamos e não sabemos as origens são consequência do “apagamento de identidade
indígena implementada pelo Estado no decorrer dos séculos XVII ao XIX” (MACIEL,
2014).
O projeto do Estado foi utilizar a mão de
obra do indígena, seus saberes, suas rivalidades tradicionais na pacificação de
outras etnias indígenas, o seu conhecimento geográfico na ocupação territorial,
e, por fim, o seu extermínio quando não se submetiam a pacificação até chegar
ao seu produto final de generalização do indígena e sua introdução na
sociedade. (MACIEL, 2014, p. 10)
Hoje a identidade da
nossa região (Breves) se concretiza como os urbanos e os rurais, pois, muitos desses
povos vieram para a cidade em buscar de recursos médico e educacional e na
perspectiva de um trabalho, ficando e construindo residências (juntando-se aos
que já habitavam e com os que aqui chegaram). Outros permaneceram em seus
locais de origem, mesmo com a expansão da cidade que invade o espaço do outro
sem ter noção do limite, o que permite a divisão de povos urbanos e rurais,
cria a ideia de desigualdade entre os mesmos pensando que os que moram na zona
urbana são mais desenvolvidos e não indígenas e os que residem na zona rural como
povo pobre e atrasado e com características indígenas evidentes, esquecendo que
somos todos filhos do mesmo chão.
O
ocultamento dos vínculos de pertencimento ao povo de origem está associado ao
próprio contexto urbano que sempre foi hostil em relação ao indígena; a cidade
é o ambiente que revela, de forma explícita, o racismo contra o índio, figura
atrasada, inconfiável, de hábitos estranhos, feios e desagradáveis. (RANGEL;
GALANTE; CARDOSOS, 2013, p. 114)
A exploração, a descriminação para com os indios,
contribui para a vergonha, medo e preconceito de muitos hoje negarem suas
origens. Apropriando-se de outros valores e construindo uma nova identidade que
seja aplausível, sabemos que a partir do contato com outras culturas uma
sociedade não é mais a mesma as mudanças sempre vão ocorrer.
Neste processo de
mudança, Hall (2006) avalia o sujeito “como pós-moderno, que não tem uma
identidade fixa, essencial ou permanente”, essas modificações vão continuar acontecendo,
pois, o contato de uma etnia com outra nesse mundo globalizado se torna
inevitável. Diariamente temos acesso a várias informações, pois, mesmo no meio
da mata o avanço tecnológico nos alcançou, e a cultura de outros países
chegaram até nós. “E o processo de identificação que projetamos em nossas
identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático”
(Hall, 2006, p. 12).
Referências
HALL, S. Da
diáspora - identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG,
2003.
MACIEL, Márcia Nunes. As histórias que ouvi de minha
avó e o que aprendi com elas. LEETRA
Indígena, São Carlos, v. 1, n. 4, p. 10-16, 2014.
PACHECO, Agenor Sarraf. A conquista do ocidente
marajoara: índios, portugueses e religiosos em reinvenções históricas. In:
SCHAAN, D. P.; MARTINS, C. P. (Orgs) Muito
Além dos Campos: arqueologia e história na Amazônia Marajoara. Belém:
GKNORONHA, 2010.
RANGEL, L; GALANTE, L; CARDOSO, C. A presença indígena
nas cidades.In:VENTURI, G; BOKANY,
V.Indígenas no Brasil: demandas dos
povos e percepção da opinião pública. São Paulo: Editora Fundação Perseu
Abramo, 2013.